Por Mladen Dolar, via Wie geht Kunst, traduzido por Rodrigo Gonsalves.
Mladen Dolar é co-fundador da Escola
de Psicanálise de Ljubljana, junto à Slavoj Žižek, Alenka Zupančič e
Rastko Močnik. Conny Habble encontrou-se com o filósofo esloveno em
junho de 2009 em Ljubljana.
Wgk: Teve alguma obra de arte que surtiu efeito à longo prazo sobre você?
Dolar: A obra de Samuel
Beckett – se tivesse que apontar apenas um. Tanto pela importância que
teve para mim e pelo momento histórico particular do final do século XX.
Penso que ele foi o que mais longe foi, de certo modo. Existem inúmeras
razões para isto, e uma delas tem relação com a enorme vontade por
redução. O que Beckett fez, foi criar um mundo completamente reduzível.
Não há nunca pequeno o bastante. Você pode sempre tirar mais.
Pegue a trilogia: Molloy, Malone Morre, O
Inominável. No início há algum tipo de roteiro e certo tipo de
personagens. Então no segundo livro, você apenas tem Malone, que está
morrendo sozinho em seu quarto e que está inventando histórias enquanto
aguarda pela morte. O espaço diminuiu, não há mais uma viagem. E então,
você tem o terceiro livro, onde você nem ao menos tem isto. Você não tem
o espaço, você não tem o personagem, você apenas tem a voz. Uma voz que
apenas divaga e continua, e que não mais importa o que é dito no final.
É apenas um mero impulso de perseverança, de persistência, que conduz a
coisa toda. Então apenas persista. Você precisa seguir. E você sabe
como termina, acaba do modo mais bonito possível: “Eu devo seguir, eu
não posso seguir, eu seguirei”.
Penso que este é um ponto incrível, não
achava que a literatura tivesse ido tão radicalmente longe assim. Isso é
tão completamente reduzido ao mínimo possível, é o que Beckett chama de
“the unnullable least”. E extremamente poderoso.
Wgk: Então o que realmente é arte?
Dolar: Penso que fazer arte é gerar um rompimento. Este seria o modo mais simples de responder à sua pergunta.
Mas existem modos diferentes de responder
isto. Um deles seria ir até a teoria de Freud, que olha para arte
através dos binóculos de espião da sublimação. Penso que o que Freud
entende enquanto pulsão, ‘der Trieb’, na realidade tem relação com a
transição entre algo natural e a criação de um espaço diferente, e que
tudo que ele descreve enquanto a especificidade da cultura na realidade
tem relação com a estrutura da pulsão. A pulsão é como a frustração em
sua forma natural, torna-se frustrado diante de um modo de fim
diferente. Isto é como um suposta necessidade natural, mas que no
processo de se satisfazer acaba por se frustrar. Produz algo distinto da
mera satisfação de uma necessidade natural. Se você olha para o modo
como Freud descreve cultura em Unbehagen in der Kultur ele define cultura com uma lista de características.
A primeira da lista seria a questão de
ferramentas. Estamos desenvolvendo mais e mais ferramentas, para nos
tornarmos os mestres da natureza, para que possamos fazer todas as
coisas mágicas, podemos olhar à distância usando telescópios, podemos
enxergar o invisível usando microscópios, podemos falar à distancia
usando o telefone, podemos fazer coisas absolutamente mágicas. E Freud
usa esse maravilhoso mundo, como ele diz: “Der Mensch ist ein
Prothesengott”. Então ele é um deus com próteses. Você só precisa de
próteses para ser um deus. Então você tem essas extensões do corpo. E o
que realmente a vontade de dominar a natureza produz ao mesmo tempo –
algo mais que a simples dominação da natureza – produz próteses, algo
“entre espaços”, um espaço que prolonga seu corpo, prolonga seu corpo no
mundo. O espaço estranho entre o interno e o externo é libidinosamene
investido. E, para resumir, isto também é a área onde a cultura está.
Wgk: Você tem alguma ideia do que é boa arte? Qual arte você toma enquanto boa?
Dolar: Bem, isto não é
uma questão subjetiva. Há uma tendência forte de reduzir a questão do
gosto. E a questão do gosto é um tanto perigosa porque sempre remete à
questão do narcisismo. Há algo profundamente narcísico no julgamento das
preferências. “Eu prefiro isto, eu sou um conhecedor, eu prefiro os
ultimíssimos quartetos de Beethoven do que suas sinfonias”. A diferença
que quer dizer diferença enquanto tal e que quer dizer que você é
distinto e que você pode distinguir-se do comum das outras pessoas por
ser um homem de gosto refinado, para ver todas essas diferenças que os
outros não conseguem ver.
Eu tenho este conceito de arte, que arte
tem algo a ver com a universalidade e com o infinidade. Produz algo na
continuação do ser, na continuidade de nossa sobrevivência. Uma quebra.
Que é uma quebra universal. Uma quebra para a universalidade. Pode
dizer-se universalmente. O que é importante na arte não é uma questão de
ser a expressão de um certo indivíduo ou se é uma expressão de um certo
grupo étnico, nação ou certo período.
Eu penso que a quebra é tamanha que faz o universal das particularidades.
Mas o problema é como fazer isto com os
meios subjetivos à sua disposição, por meio da nação em que se pertence,
ou sua língua, cultura, por meio de um tipo particular de civilização,
por meio deste momento histórico – que são coisas muito finitas e
singulares. Como produzir universalidade e infinidade disto? E isto, eu
penso ser o momento da arte. Isto não é uma produção do espírito, isto é
uma produção material da quebra. Eu gosto muito do dito, que vemos
pelas camisetas dizendo: “Arte é um trabalho sujo, mas alguém tem de
fazer”. Você precisa sujar suas mãos. O que uma coisa muito material.
Você produz a ideia com o material, com a matéria. A arte sempre
trabalhou com o sensitivo. Se algum tenta alcançar imediatamente a
universalidade ou a infinidade de um além, uma ideia, o sublime ou seja
lá o que – isto é, penso eu, um grande equívoco. Você não pode fazer
isto. Você apenas pode produzi-lo da maneira difícil. Mas depende da
capacidade de se produzir essa quebra.
E isso delimita o critério pelo qual se
pode julgar. Eu não penso que pode ser julgado por base de gosto, não se
trata apenas de uma questão de se eu gosto ou não. Tem o poder de
produzir universalidade. Cria uma potencial audiência virtual que vai
muito mais longe que esta audiência de agora. E penso que a atenção que
vai para além disto, para além do meu gosto particular e reação, é isto
que faz um boa arte.
WgK: A arte é um benefício para a sociedade? Por que tem de haver alguém para fazer este trabalho sujo?
Dolar: Bem, eu penso que
na questão pela qual comecei, a questão de delimitar essa linha, de
fazer um corte na continuidade do nosso ser animal ou social, do nosso
ser finito, que é isto que define humanidade. Não estou dizendo que arte
é apenas o que faz isto. Isto é a prática da filosofia. Eu penso que a
filosofia, de modo semelhante, mas também muito diferente, gera uma
quebra conceitual na continuidade particular dos dados modos de pensar.
Nós temos a definição de um homem como homo sapiens,
mas o trabalho é que o pensar é muito raro. Não é que o homem pensa o
tempo todo, acontece muito raramente. Existem poucas ocasiões em que o
pensar ocorre e quando acontece, altera profundamente os mesmos
parâmetros dos modos com o qual concebemos o mundo, nós mesmos, tudo o
mais. Há um punhado de pensadores. Isto é algo estranho na história da
filosofia, só há um punhado de pensadores com que temos que lidar
continuamente. Mas eu não penso que – e isso é importante – que o pensar
é alguma prerrogativa da filosofia, que filósofos são especiais por
terem essa especialização do pensar. Eu não penso isto de modo algum. Eu
penso que o pensar pode ocorrer em qualquer lugar. E silêncio e…
WgK: Isso também ocorre na arte?
Dolar: Ah sim. Com
certeza ocorre. Tem um modo diferente e a questão do trabalho de arte
com o sensitivo, com o material sensitivo que é importantíssimo, isto é o
pensar materializado. É o pensar que trabalha por meio da matéria e
molda o material. É anexado à matéria, e a matéria pensa na arte. Isto é
muito importante, a materialidade do pensar. Eu penso que o pensar
realmente ocorre num número de áreas do empenho humano. E arte é um dos
que maior reflete isto.
WgK: Quais são os outros?
Dolar: Você está
familiarizado com o trabalho de Alain Badiou? Ele tem uma listagem de
quatro procedimentos, quatro áreas donde a verdade emerge.
Estas são: A ciência, e acima de tudo as
ciências completamente construídas como a matemática. Não se refere à
nada no mundo, apenas cria suas próprias entidades, entidades puras.
Então: Poesia e arte enquanto tal. Então, a política. Política não de
opiniões mas a política da verdade. Há uma oposição aí entre ambas.
Democracia basicamente é a democracia de opiniões. Qualquer um é livre
para sustentar qualquer tipo de opinião e então você conta dos votos.
Isto não é uma política da verdade. Há uma espécie de verdade em jogo na
política que tem relação com a justiça e a igualdade, e tem relação com
uma ideia. E então, há a questão do amor, que é a emergência de um
evento verdadeiro. Um evento subjetivamente verdadeiro.
Badiou lista as quatro áreas como áreas
em que a quebra ocorre. Não tenho certeza de que esta lista seja a
melhor, que seja exaustiva ou conclusiva. Talvez essa lista, de certo
modo, seja arrumada demais. Eu penso que as coisas na vida são
bagunçadas. Em muitas situações diárias, até nas mais triviais, pode
haver uma quebra repentina e inesperada, pessoas demonstram uma
criatividade inventiva e fazem coisas completamente inesperadas, e
realmente mudam os parâmetros da situação e suas próprias vidas e a vida
dos outros. Eu deixaria esse campo em aberto.
WgK: Eu acabo de ter um pensamento espontâneo se o humor poderia ser uma destas áreas também?
Dolar: Bem, você tem uma antiga sugestão que resgata Aristóteles, a de que o homem é um animal que ri. Você tem muitas propostas para a definição de homem, uma é a do animal que pensa, outra é a do animal que produz ferramentas,
que resgata Benjamin Franklin. Marx leva esta como a determinada
maneira com que alguém pode definir o homem por meio da ferramenta que
condiciona sua capacidade de trabalhar. E então você tem a sugestão de
Aristóteles: Homem é um animal que ri. O único animal que pode
rir – rir do que? Rir, precisamente, de ser capaz de produzir certa
quebra. A quebra do sentido, no próprio parâmetro do fazer sentido. Um
modo de descrever isto poderia ser como eu comecei – produzir uma
quebra, produzir um corte – que é também produzir uma quebra no
significado para que se produza sentido, se eu puder me valer desta
oposição de Deleuze entre significado e sentido. O próprio horizonte de
significado no qual nos movemos, no qual vivemos nossas vidas. E esta é a
capacidade da arte.
No que toca o humor, eu apenas apontaria
que há a questão de humor e há a questão de “Witz” [“piada”]. Freud
escreveu um livro sobre “Witz” e um papel diferente para o humor
e ele diz que essas coisas absolutamente não podem ser confundidas.
Acrescentando que há a questão da comedia e a questão da ironia. Então
temos quatro coisas diferentes que não são a mesma. Nós podemos rir como
resultado, mas uma risada e uma risada. A risada por si não tem nada de
subversivo. Ela também pode ser muito conservadora.
WgK: Quem se torna um artista? O que faz com que pessoas se tornem artistas?
Dolar: Eu não penso que
haja uma regra. Há a capacidade, bem, a capacidade de produzir-quebras.
Do modo como nos relacionamentos com nós mesmos é sempre condicionada
por uma quebra, há uma questão do redobrar-se. A cultura é sempre uma
questão do redobrar-se: se redobra a vida “normal”. Se reflete em outra
coisa, mas o redobrar está sempre lá.
WgK : Mas ainda existem pessoas que não se tornam artistas ou intelectuais.
Dolar: Não, não, é
claro. Eu penso que a capacidade está lá, e é uma capacidade que define a
humanidade e a subjetividade. E… como diabos você se torna um artista?
Quais coisas em particular tem de se agruparem? Eu penso que o que gera a
grandiosidade da arte é precisamente sua singularidade. O que quer
dizer que se você pode estabelecer esta regra a arte pararia de ser
arte.
WgK : Mas não
poderia ser que há alguma razão para que as pessoas comecem a produzir
arte? Robert Pfaller certa vez sugeriu que artistas poderiam ter passado
por alguma experiências traumática que estes – pelo resto de suas vidas
– tentam lidar por meio da arte.
Dolar: Não temos nós
todos que lidar com certo tipo de experiência traumática? É muito
difícil afirmar isto. Digo, a questão foi posta inúmeras vezes, então
você tem escolas de arte que lecionam tudo exceto aquilo que é
essencial.
WgK : Sim, mas a
escola de arte começa já no momento em que você decide entrar numa
escola de arte. Quem é são esses que decidem ir para uma escola de arte?
Então vejo dois aspectos para essa questão. Primeiro: Como você se
torna um bom artista? E a outra questão – que realmente me interessa –
que é: Por que alguém quer se tornar um artista? Não importa se bom ou
ruim, se com sucesso ou não: O que faz uma pessoa seguir este caminho?
Dolar: Se você quer se
tornar um artista, o que você precisa se tornar? Se eu tomar alguns dos
grandes músicos de todos os tempos, como Bach e Mozart ou Haydn. O que
você pode ver? Quem foi Haydn? Ele foi contratado pela família Esterhazy
como um artífice. Quero dizer, ele queria se tornar um artista? Eu não
acho que ele nem ao menos penso em si mesmo deste modo na realidade. Ele
era uma artífice pago. E se você tomar Mozart, ele esteve o tempo todo
tentar ser contratado por alguma corte ou algo assim. Se você tomar
Bach, ele era empregado pela igreja de St. Thomas em Leipzig para
produzir as peças musicais para as missas semanais.
Não se trata de questão de genialidade ou
inspiração. Você foi contrato. Porque isto era outro oficio e eu não
penso que ninguém olharia para si mesmo do mesmo modo hoje. Se você quer
se tornar um artista você não quer se tornar um artífice. Você se vê
como uma pessoa com uma vocação muito especial, que vai além de todas as
vocações usuais. Isto se dá por conta do modelo romântico de arte e
depois das conceituações modernistas.
WgK : Vamos continuar com o modo atual de se compreender arte: você pensa que artistas são narcisistas?
Dolar: A questão da arte
e do narcisismo… Eu diria que por um lado é profundamente narcisista. É
geralmente ligado à uma projeto de narcisismo profundo da
auto-expressão e o tesouro precioso que possuo em mim mesmo e que quero
compartilhar com o mundo… Mas eu penso que isto é o que faz a arte. Como
eu disse anteriormente: Arte não é expressão. Não é uma expressão de si
mesmo. Pessoas podem querer fazer isto para se expressarem, mas o que
gera a quebra e o que lhe dá seu apelo universal, a afirmação da arte,
não é uma questão de se expressar-se ou não. Nunca é esta a questão pela
qual a arte é julgada. Então, por outro lado, eu tenho certeza que a
motivação para fazer isto é na maioria dos casos narcísica.
WgK: Eu lhe
compreendi corretamente quando você disse que a arte não é uma expressão
– você poderia então dizer que a arte é uma das ‘Prothesen’?
Dolar: Sim. Ah, sim.
WgK: Eu realmente gosto desta imagem
Dolar: O “Prothensengott”? Sim. Mas bem, Freud o usa no contexto da tecnologia e da produção de ferramentas.
WgK: Tenho a impressão de que isto é muito bom, talvez não apenas para ferramentas?
Dolar: Sim. É uma coisa
boa. Não é apenas a questão da ferramenta. Uma ferramenta nunca é uma
ferramenta. É uma extensão do investimento libidinal do corpo.
WgK: Então você poderia afirmar que a arte é uma extensão libidinal de si. Do corpo.
Dolar: Bem, tem alguma
relação com a extensão libidinal. O modo como Freud introduz a noção de
próteses, tem mais relação a tecnologia do que com a arte. Mas eu penso
que é ainda assim, uma metáfora válida também para pensar a arte.
WgK: Você poderia chamar este de objeto a? Arte como uma extensão em direção ao objeto a?
Dolar: Bem, sim. Eu não
queria usar o linguajar lacaniano profundamente técnico para isto. Digo,
isto pode ser descrito em outras linguagens, mas o que Lacan chama de
objeto a é precisamente o objeto da transição entre o interior e o
exterior, o que não recai completamente nem no interior ou no mundo
exterior lá de fora, o mundo objetivo. Quero dizer que não é nem
subjetivo e nem objetivo. Deste modo é sempre nesta zona de
indeterminação, na zona que se abre entre ambas. Que é a zona do
‘Prothesen’ se quiser, digo, o Prothesen sempre preenche essa zona: você
introduz algo entre sujeitos e objetos. Você estende seu corpo no
mundo, e ao mesmo tempo o mundo se estende em você. Ainda assim, o que
Lacan chama de objeto a não coincide com qualquer objeto existente, não
possui nenhuma substancia em si, enquanto a arte produz objetos
existentes do qual a tarefa é evocar este objeto impossível. Invocar o
impossível.
WgK : Você concorda que artistas e filósofos compartilham semelhanças nas realidades em que vivem?
Dolar: Sim. Eu penso
existir um grande terreno comum. As ferramentas com que eles trabalham
são diferentes, mas penso que estes trabalham em um terreno comum e
estes não podem ser tão claramente delineados. Uma maneira de
diferenciação – que eu pessoalmente não gosto – é dizer que os artistas
tem as paixões e os sentimentos e que trabalham com isto, enquanto
filósofos possuem a razão e a compreensão, e trabalham com isto. Eu não
penso que essa oposição seja válida. Nunca funciona deste modo. Eu penso
que qualquer atividade do ser humano possua ambas: paixão e razão,
indiscriminadamente, inscritas nesta.
Se você procurar na história da filosofia
– veja Platão, veja Espinosa, veja Agostinho, veja Hegel, Marx, Kant,
Wittgenstein – sempre há uma imensa paixão. Há uma imensa paixão em jogo
aqui. Eles são guiados por esta paixão. Descrever isto apenas como mero
trabalho da inteligência é completamente equivocado. Esta é uma
concepção comum bastante errônea da filosofia, da racionalidade e dos
conceitos. Se não envolver uma relação apaixonada e um compromisso
apaixonado, então não é filosofia. Há muita, muita e séria paixão em
trabalhar com isto. E no final oposto eu também penso que há pensamentos
extremamente preciosos envolvidos na arte. E se não, então não é boa
arte.
Wgk: Nós estávamos
conversando sobre paixão e razão – você pensa que artistas e filósofos
podem ter família? Você pensa ser possível fazer um trabalho tão
ambiciosamente organizado ou apaixonado e, ainda assim, ter amor por
outras pessoas?
Dolar: No geral, eu não
vejo porque deveriam ser coisas exclusivas. Mas esta não me parece uma
questão que concerne apenas à arte. Penso que é uma questão em que toca
qualquer modo de relação profissional apaixonada. Digo, poderia ser um
advogado, um político, um cientista, um professor, qualquer uma destas.
Poderia ser um esportista, poderia ser qualquer tipo de coisa e se
produzirão problemas, problemas bastante práticos, como diabos você lida
com sua família, com seu amor, com sua vida privada. Eu imagino que
depende muito no tipo de pessoa que você é. Existem pessoas que
apagariam de algum modo todo o resto e existem pessoas que encontram um
modo, seja como for. Ambos podem trabalhar por vinte horas por dia e
ainda assim, encontrar um modo de possuir uma vida privada.
in LavraPalavra blogspot.com





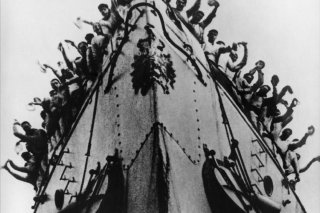

 Por
Por 





