A tragédia está morta?
- Cultura • Filosofia • Literatura • Livros

Por TERRY EAGLETON*
Primeiro capítulo do livro recém-traduzido “Tragédia”
“Não era algo de ordem monstruosa; não era um destino raro e distinto; não era um golpe de sorte que oprimia e imortalizava; tinha apenas o selo da desgraça comum”. (Henry James, A fera na selva)
1.
A tragédia é considerada universal, o que é verdade se tivermos em mente o sentido cotidiano da palavra. O luto pela morte de uma criança, um desastre em uma mina ou a desintegração gradual de uma mente humana não se limitam a nenhuma cultura em particular. A tristeza e o desespero constituem uma língua franca. No entanto, a tragédia no sentido artístico é um assunto altamente específico. Não há equivalente próximo dela, por exemplo, na arte tradicional da China, Índia ou Japão.
Em um magnífico estudo da tragédia do início da era moderna, Blair Hoxby aponta que “os europeus viviam sem nenhuma categoria para o trágico, embora vissem tragédias em todos os lugares”. A forma não se origina como reflexão atemporal sobre a condição humana, mas como uma forma na qual determinada civilização enfrenta os conflitos que a assolam durante um momento histórico efêmero.
Toda arte tem uma dimensão política, mas a tragédia, na verdade, iniciou como uma instituição política. Para Hannah Arendt, ela é a arte política par excellence. Apenas no teatro, Hannah Arendt afirma, “a esfera política da vida humana é transposta para a arte”. De fato, a tragédia grega antiga não é apenas uma instituição política em si mesma, mas duas de suas obras, Eumênides, de Ésquilo, e Édipo em Colono, de Sófocles, dizem respeito à fundação ou garantia de instituições públicas.
É fato conhecido que o drama trágico, realizado na Grécia antiga como parte do festival de Dionísio, era financiado por um indivíduo nomeado pela cidade-estado, cujo dever público era ensaiar e pagar o Coro. O Estado supervisionava os procedimentos de forma geral sob a autoridade do magistrado chefe e mantinha os roteiros das apresentações em seus arquivos. Os atores eram pagos pela pólis, e o Estado também fornecia um fundo para subsidiar a taxa de entrada para que cidadãos muito pobres pudessem pagá-la.
Os juízes do concurso eram eleitos pelo corpo de cidadãos e, sem dúvida, nas performances dramáticas teriam exercido a perspicácia crítica que estavam acostumados a exercer como jurados nos tribunais e como membros da assembleia política. Como Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet comentam, era uma questão de “a cidade se transformar em teatro”. “O texto da tragédia”, observa Rainer Friedrich, “torna-se parte do discurso civil da pólis”.
2.
A tragédia, portanto, não era apenas experiência estética ou espetáculo dramático. Era também uma forma de educação ético-política que ajudava a inculcar a virtude cívica. Para Hannah Arendt, há um paralelo entre a política e o teatro trágico, pois quando a política é conduzida em sessão pública completa, como na Atenas antiga, ela transforma seus participantes em artistas semelhantes a atores em um palco.
A tragédia mais tardia não é, em sua maior parte, uma instituição política oficial, embora na Alemanha do século XVIII, o romance Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe, e a teoria dramática de Gotthold Lessing reflitam sobre a necessidade de um teatro estatal que unificasse a nação. Para Lessing, assim como para alguns outros pensadores alemães de sua época, o teatro promove a virtude pública e um senso de identidade coletiva.
Seja ou não baseado nacionalmente, no entanto, o drama trágico continua a lidar com os assuntos de Estado, as revoltas contra a autoridade, a ambição exagerada, as intrigas da corte, as violações da justiça, as lutas pela soberania, tudo aquilo que tende a centrar-se nas carreiras de figuras nobres cujas vidas e mortes têm consequências importantes para a sociedade como um todo.
Politicamente falando, a tragédia grega tinha papel duplo, tanto validando instituições sociais, quanto questionando-as. A arte pode legitimar uma ordem social por meio de seu conteúdo, mas também fornecendo ao público uma válvula de escape psicológica, promovendo fantasias inofensivas que podem distraí-lo dos aspectos mais repugnantes dos regimes sob os quais vive.
A Poética de Aristóteles não vê a tragédia como uma fantasia inofensiva, mas a considera como alimentando o público com doses rigidamente controladas de certas emoções (piedade e medo) que, de outra forma, poderiam ser socialmente disruptivas. É, em suma, uma homeopatia política.
No que diz respeito à tragédia como crítica, é surpreendente que um evento político oficial, parte de um festival religioso reverenciado, pudesse lançar luz tão ousada sobre o subtexto obscuro da civilização grega antiga: sobre a loucura, o parricídio, o incesto, o infanticídio e coisas do gênero, por mais que esses assuntos tenham sido empurrados para o passado mitológico cautelosamente. É como se um festival em homenagem à rainha da Inglaterra apresentasse uma série de quadros do adultério desde Lancelot e Guinevere até as façanhas de Jack, o Estripador.
3.
Na visão de Aristóteles, a tragédia grega pode fornecer uma forma de terapia pública, purgando uma fragilidade emocional que pode colocar em risco a saúde da pólis. Assim como em Platão, entretanto, também é possível ver certos aspectos do teatro como politicamente subversivos e exigir sua regulamentação estrita pelo Estado. A tragédia mais tardia possui uma gama de papéis políticos. Ela pode lembrar o público quão doentiamente precário o poder dos poderosos pode ser, ou fornecer um corpo de mitologia em torno do qual a nação pode renascer.
Nós veremos mais adiante como a filosofia alemã da tragédia se propõe a resolver certas contradições que surgem de um estágio inicial da civilização de classe média. A dimensão pública ou política da tragédia continua viva no teatro de Henrik Ibsen, mesmo que o cenário de seu drama seja em grande parte doméstico. Isso ocorre porque, em Henrik Ibsen, a família serve como um meio para tratar as questões sociais mais profundas, de modo que os domínios privado e público se tornam difíceis de serem dissociados.
É somente depois desse ponto que encontramos em uma escala considerável o que poderia ser chamado de tragédia privada, prenunciada em algum drama doméstico do século XVIII, no qual o que está principalmente em jogo é um pai incestuoso, uma mãe viciada em drogas ou um casal que sobrevive destruindo um ao outro.
A política da tragédia, no entanto, envolve mais do que o que acontece no palco. Ela também significa uma luta sobre o significado do trágico em si. Em seu estudo A morte da tragédia, o crítico George Steiner vê a tragédia como uma crítica à modernidade. O espírito verdadeiramente trágico expira com o nascimento do moderno. Ele não pode sobreviver a uma era que deposita a fé em valores seculares, uma política esclarecida, a conduta racional dos assuntos humanos e a inteligibilidade final do universo.
Ele fica desconfortável nesse mundo desencantado, de modo que o termo “tragédia moderna” se torna uma espécie de oxímoro. A tragédia não pode tolerar uma ética utilitária ou uma política igualitária. Como aristocrata entre as formas de arte, ela serve, entre outras coisas, como traço de memória de certa ordem social mais espiritualmente exaltada no coração de uma época desagradavelmente prosaica. Ela representa um resíduo de transcendência em uma era de materialismo.
O que iniciou como instituição política, portanto, acaba como uma forma de antipolítica. Somos resgatados das garras do comerciante, do escrivão e do conselheiro local, e restaurados a um mundo de deuses, mártires, heróis e guerreiros. Em uma era desvalorizada de pessoas comuns, podemos nos voltar mais uma vez para o mistério, a mitologia e o metafísico. Dada a afinidade histórica entre a tragédia e a democracia, essa aversão ao espírito democrático é especialmente irônica.
A tragédia, ou pelo menos uma versão parcial dela, está entre os vários substitutos da religião no período moderno, lidando como faz com a culpa, a transgressão, o sofrimento, a redenção e a glorificação. É com a morte de Deus que a arte trágica renasce, com toda a aura majestosa da divindade que ela substitui. Para boa parte da teoria estética, não pode haver nada mais resplandecente que o sublime, do qual a tragédia é a expressão suprema; o que quer dizer que a tragédia é duplamente destacada, ocupando o mais alto posto do mais elevado modo estético.
4.
Nessa visão, que absolutamente não se limita à obra de George Steiner, o drama trágico é tudo o que a era moderna não é: elitista em vez de igualitário, de sangue nobre em vez de mãos calejadas, espiritual em vez de científico, absoluto em vez de contingente, irremediável em vez de reparável, universal em vez de paroquial, uma questão de destino em vez de autodeterminação. Ele lida com a morte de príncipes em vez do suicídio de mercadores.
Arthur Schopenhauer é um dos raros filósofos da tragédia que insiste que um grande infortúnio – que em sua visão levemente heterodoxa é suficiente para constituir uma ação trágica – pode acontecer a qualquer pessoa, independentemente da posição social. Esse infortúnio, ele comenta, não precisa ser causado por circunstâncias raras ou personagens monstruosos, mas pode surgir fácil e espontaneamente do comportamento humano habitual.
No entanto, embora o filósofo sustente que as tragédias cotidianas são as melhores, no sentido de que mais de nós podemos nos identificar com elas, também afirma, de forma um tanto inconsistente, que os protagonistas trágicos devem preferencialmente ter status nobre, já que sua queda causa mais impacto. As circunstâncias que mergulham uma família de classe média na penúria e no desespero, observa Schopenhauer, podem parecer insignificantes aos olhos dos poderosos e, uma vez que podem ser remediadas com facilidade pela ação humana, dificilmente os levarão à piedade.
Os romancistas naturalistas franceses Edmond e Jules de Goncourt são bem mais generosos. Eles escrevem: “Nós devemos nos perguntar se nesta era de igualdade em que vivemos ainda poderia haver, para o escritor ou para o leitor, quaisquer classes demasiadamente desprezíveis, quaisquer misérias demasiadamente indignas, quaisquer dramas obscenos, quaisquer catástrofes insuficientemente nobres em seu terror. Ficamos curiosos para saber se a Tragédia, a forma convencional de uma literatura esquecida e de uma sociedade desaparecida, estava realmente morta; se, em um país sem castas e sem aristocracia legal, os infortúnios dos pequenos e dos pobres poderiam despertar interesse, emoção e piedade no mesmo grau que os infortúnios dos grandes e ricos; se, em uma palavra, as lágrimas que são derramadas pelos de baixo poderiam evocar lágrimas tão facilmente quanto as que são derramadas pelos de cima”.
5.
Nesse sentido, os Goncourt são herdeiros da linhagem da denominada tragédia burguesa que, para figuras do século XVIII como Diderot e Lessing, nos apresenta homens e mulheres comuns em situações familiares. Na visão de Lessing, os espectadores de classe média nas bancadas devem se ver refletidos nos personagens no palco. Para essa corrente de pensamento, a tragédia não deve ser definida nem por um tom heroico, por convenções neoclássicas, nem pelo status social dos personagens, mas por sua autenticidade emocional.
A teoria trágica medieval e renascentista vê a queda de um herói de alta linhagem da prosperidade para a miséria como crucial para a forma; mas, uma vez que os protagonistas são impassivelmente burgueses em vez de glamourosamente aristocráticos, a noção de tragédia como queda calamitosa começa a desaparecer. O mesmo acontece com a ideia de que ela expõe a precariedade do poder ou a mutabilidade dos assuntos humanos.
Para uma visão mais tradicional que a de Lessing, a arte trágica não é uma questão de infortúnios dos pobres, mas de mito e destino, ritual e sacrifício de sangue, crimes graves e expiação heroica, mal e redenção, deuses ciumentos e vítimas submissas. O sofrimento que ela retrata é enobrecedor, além aterrador, de modo que deixamos o teatro edificado por cenas de carnificina. Somente quando confrontada pela calamidade, o espírito humano é capaz de revelar sua verdadeira nobreza.
A tragédia é a forma peculiar que não nos apresenta nem simplesmente a aflição humana, nem simplesmente o que a transcende, mas uma em função da outra. Nas palavras de George Steiner, ela representa “uma fusão de tristeza e alegria, de lamento pela queda do homem e de regozijo na ressurreição de seu espírito”. A forma artística desempenha papel vital, moldando, distanciando, purificando e condensando os materiais trágicos de uma forma que torna o poder de nos apavorar mais aceitável.
David Hume observa, no ensaio Da tragédia, que a eloquência e a “artisticidade” da arte trágica tornam mais prazeroso o conteúdo angustiante. Edmund Burke desenvolve o argumento engenhoso de que esse prazer é a maneira de a Natureza nos impedir de evitar cenas de miséria da vida real, inspirando-nos a voar em auxílio dos envolvidos.
Além disso, ficcionalizar eventos é investi-los com inteligibilidade, bem como universalidade potencial, que podem faltar na vida cotidiana. Na tragédia grega antiga, empurrar a ação para um passado lendário pode ter o mesmo efeito cognitivo. Apesar de todo o caos e a incerteza da ação trágica, podemos discernir vagamente o funcionamento da providência dentro dela, principalmente se ficarmos um pouco distantes.
6.
Na visão de alguns críticos modernos, filósofos como Hegel revigoram o inenarrável ao insistir que a tragédia revela um desígnio racional. É um caso persuasivo, embora o próprio fato de a arte trágica existir sugira que há mais no mundo do que a dor. A tragédia não é um grito sem palavras. O trauma do “real” para Jacques Lacan está além da linguagem, mas a tragédia permanece desse lado do silêncio.
“A linguagem por meio de sons, ou melhor ainda, palavras, é uma vasta libertação”, escreve Bertolt Brecht, “porque significa que o sofredor está começando a produzir algo. Ele já está misturando sua tristeza com um relato dos golpes que recebeu; já está fazendo algo do totalmente devastador. A observação instalou-se.”.
Na tragédia, observa Roland Barthes em Sobre Racine, nunca morremos porque estamos sempre falando. O verdadeiro desespero acontece quando não somos mais capazes de falar. Se há esperança após a morte de Lear, ela está inscrita – entre outros lugares – na própria integridade do verso, que não consegue se calar diante dessa catástrofe.
No entanto, o fato de a poesia não se revelar completamente é uma pequena recompensa pelos horrores que retrata. “Toda obra de arte, incluindo a tragédia”, observa Yuri Jivago, de Boris Pasternak, “testemunha a alegria da existência. […] Ela está sempre meditando sobre a morte e, assim, está sempre criando vida.” Mas as realizações da arte em nenhum sentido redimem o sofrimento que o romance retrata.
Em uma visão conservadora, Ésquilo é trágico, mas Auschwitz não. Não se trata de que o Holocausto não seja lamentável além das palavras, mas de que ele nada faz para elevar nosso senso de possibilidade humana. O que quer que nos deixe abatidos em vez de exaltados – um acidente aéreo, a fome, a morte de uma criança – não se qualifica para o status trágico. O sentido estético da palavra se liberta de seu significado cotidiano.
É uma fissura histórica, bem como conceitual: os gregos antigos parecem ter pouca ideia do trágico em nosso sentido coloquial do termo, ou, nesse caso, da tragédia como uma visão de mundo (embora o pronunciamento sombrio de Sófocles, de que seria melhor para homens e mulheres nunca terem nascido, tenha toda a ressonância dessa ideia). Para a Grécia antiga, o termo pode evocar o magnífico ou o grandioso, razão pela qual Aristófanes pode zombar do alto estilo da tragédia, mas raramente do triste.
O termo “trágico” em seu sentido comum é um desenvolvimento posterior e, como tal, é um caso de vida imitando a arte. Significa algo como “indizivelmente triste”, distinto de forma de arte ou visão do mundo. Vale a pena notar, incidentalmente, que uma cultura pode ter uma visão trágica sem produzir nenhuma arte trágica muito notável, ou vice-versa.
7.
Na visão clássica, desastres da vida real não são trágicos porque são uma questão de sofrimento bruto. É somente quando esse sofrimento é moldado e distanciado pela arte, de modo que algo de seu significado mais profundo seja liberado, que podemos falar adequadamente de tragédia. A arte trágica faz mais do que retratar o intolerável; ela também nos convida a refletir sobre ele, honrá-lo, homenageá-lo, investigar suas causas, lamentar as vítimas, absorver a experiência em nossa vida cotidiana, recorrer a seus terrores para confrontar nossa fraqueza e mortalidade e, talvez, encontrar algum momento provisório de afirmação em seu cerne.
Essa afirmação, como vimos, pode ser simplesmente o fato de que a própria arte continua a ser possível. O problema dessa teoria, no entanto, é que essas coisas também podem acontecer em calamidades da vida real, que raramente são um caso de sofrimento e nada mais. O ataque ao World Trade Center, em 2001, levou rapidamente a um drama coletivo de luto e meditação públicos, mito e lenda, designação e homenagem, contemplação e comemoração, todos os que faziam parte da ação trágica. Nós não precisamos que o sofrimento seja colocado no palco para ver além da dor imediata.
A versão conservadora da tragédia depende muito do teatro da Grécia antiga, mas não se encaixa em algumas de suas obras. O drama de Eurípides, por exemplo, dificilmente se destaca por apresentar uma visão legal e harmônica do universo. Para as teorias conservadoras, tal ordem nos concede o consolo do significado, e mostrá-lo sendo violado é demonstrar quão inexpugnável ele é. Elas também promovem sentimentos de reverência, admiração e submissão.
Conscientes de nossa fragilidade, encontramos no trágico uma crítica à razão arrogante, sem nos entregarmos ao pessimismo ou ao determinismo científico. Nós nos sabemos livres, mas de forma compatível com um respeito pela necessidade cósmica. Se o determinismo vulgar deve ser rejeitado, o individualismo anárquico também deve. Os seres humanos não são meros brinquedos de forças externas, nem (como em uma mitologia comum da classe média) independentes e soberanamente autorresponsáveis.
Eles são livres o suficiente para refutar os materialistas científicos, mas sujeitos à lei cósmica de maneira que igualmente confunde os individualistas liberais. Os poderes humanos são, portanto, humilhados e afirmados de uma só vez. Somos agentes, com certeza, mas não somos totalmente a fonte de nossas próprias ações.
Aqui, há um paralelo remoto com o público de uma tragédia teatral, que é ativo na forma como interpreta o drama, mas fisicamente passivo e impotente, incapaz de intervir para evitar a catástrofe e, portanto, tão vítima do destino quanto os protagonistas. Com algumas exceções de vanguarda, todo teatro é uma imagem do determinismo, dado que o público não tem permissão para subir no palco. As palavras “teatro” e “teoria” são etimologicamente correlatas, e ambas sugerem contemplação em vez de ação.
8.
Dado que somos capazes de extrair valor do fracasso e da desolação, há esperança, mas não algum otimismo entusiástico. Tanto os pessimistas quanto os progressistas estão, portanto, ultrapassados.
A nobreza humana é afirmada em oposição aos materialistas mecânicos, mas os sonhadores utópicos são lembrados da finitude humana. É preciso apegar-se ao valor que a tragédia revela, ao mesmo tempo que reconhece sua fragilidade, seguindo um curso entre o cinismo e o triunfalismo. A razão tem seu lugar nos assuntos humanos – com devido respeito aos niilistas subversivos –, mas o enigma do sofrimento expõe os limites dessa razão em relevo gritante, fato que não traz conforto aos racionalistas da classe média. Há pena e medo, mas essas são emoções edificantes, que não devem ser confundidas com algum humanitarismo sentimental.
A tragédia, nessa visão, valoriza a sabedoria sobre o conhecimento, o mistério sobre a lucidez, o eterno sobre o histórico. Ela representa o lado obscuro do Iluminismo, a sombra lançada pelo excesso de luz dos Aufklarers. “O éthos da tragédia”, escreve Christopher Norris, “é algo estranho à semântica geral do racionalismo humanista”.
Entre as discussões com os illuminati está a alegação de que as raízes da tragédia são mais profundas do que o social e, consequentemente, estão além do reparo. Nenhum medicamento poderia curar o pé inflamado de pus de Filoctetes, nenhum aconselhamento psicológico resgataria Fedra de sua condenação. Uma orientação matrimonial não poderia fazer nada por Anna Karenina, tampouco um curso sobre diferença cultural salvaria o destino de Otelo.
A tragédia é, portanto, uma rejeição aos reformistas sociais e utopistas políticos. Aos olhos de George Steiner, o drama de Ibsen falha no teste da tragédia porque gira em torno de questões que podem ser corrigidas na prática. Em Um inimigo do povo, Ibsen toma como tema a infecção de uma casa de banho pública, que, na visão de Steiner, é assunto demasiadamente indigno para uma tragédia genuína. “Se há banheiros nas casas da tragédia”, escreve com um floreio esplêndido, “é para Agamenon ser neles assassinado”.
9.
Nessa teoria, há algo intoleravelmente imaturo na esperança social, comparada ao desencanto maduro daqueles que perscrutaram o coração escuro das coisas. “O destino de Lear”, declara Steiner, “não pode ser resolvido pelo estabelecimento de lares adequados para os idosos”. Não é de fato óbvio que seja assim. Se Lear, expulso por suas filhas implacáveis, tivesse recebido consolo e abrigo de alguma alma mais gentil, talvez não tivesse precisado morrer.
Mesmo assim, William Empson tem razão quando argumenta que “é apenas em grau que qualquer melhoria da sociedade poderia evitar o desperdício de poderes humanos; o desperdício, mesmo em uma vida afortunada, e o isolamento, mesmo de uma vida rica em intimidade, não podem deixar de ser sentidos profundamente, e é esse o sentimento central da tragédia”. Esse não precisa ser um caso antipolítico; na verdade, William Empson o faz como um socialista de longa data. Isso é, no entanto, insistir nos limites do político. A política pode abolir certos conflitos, mas não pode acabar com toda a angústia e desespero.
Na visão tradicional, a arte trágica não pode sobreviver por muito tempo em um mundo desprovido de mito, providência e presença onerosa dos deuses. No entanto, o momento exato que ela morre é uma questão de disputa. Ao contrário de Mark Twain, a tragédia tem sido assunto não de um, mas de toda uma série de obituários prematuros. Hegel sustenta que a arte como tal chegou ao fim na era moderna e que, embora o drama trágico continue a ser encenado, é em grande parte um material inferior, carente da dimensão histórico-mundial dos antigos.
A arte se voltou de tais questões importantes para a ética e a psicologia, um declínio já prefigurado na obra e Eurípides. Para Nietzsche, a tragédia morreu na própria infância, estrangulada em seu berço com o advento do cético Eurípides e do cerebral Sócrates. Sigmund Freud considera vital a ideia de destino para a tragédia antiga e duvida que possa haver qualquer equivalente moderno convincente. O complexo de Édipo sobrevive ao próprio Édipo, mas alguns críticos estão menos seguros de que a tragédia também tenha sobrevivido.
Richard Halpern rejeita a tese da “morte da tragédia”, mas argumenta com alguma plausibilidade que a forma entrou em “férias prolongadas” ao longo do século XVIII e da maior parte do século XIX. Pode-se acrescentar que esse é o período em que uma classe média cada vez mais autoconfiante está em ascensão, e que quando essa garantia começa a vacilar, nas décadas finais do século XIX, a tragédia encena um retorno.
George Steiner parece afirmar que a arte sobrevive até Racine, mas depois começa a declinar. O declínio, ele sustenta, “foi concomitante com a democratização dos ideais ocidentais […]. A tragédia argumenta uma aristocracia do sofrimento, uma excelência da dor”.30 Há aqueles para quem o responsável é o cristianismo, com sua visão escatológica de esperança, que administra o coup de grâce, assim como estudos – como The Modern Temper [O temperamento moderno], de Joseph Wood Krutch –, para os quais os assassinos emquestão são a ciência e o secularismo.
10.
Quão trágica é a morte da tragédia – se seu fim deve ser lamentado como uma perda dolorosa – é uma questão para debate. Ao analisar o livro Metateatro: uma nova visão da forma dramática, de Lionel Abel, Susan Sontag compartilha a visão do autor de que a morte da tragédia não é motivo de consternação, mesmo porque, na opinião dela, a tragédia nunca foi uma corrente central do teatro ocidental.
Albert Camus considera a perda de um senso de ordem e restrição nos tempos modernos como fatal para o espírito trágico, que não pode prosperar sem que os indivíduos sejam severamente lembrados dos limites de seus poderes. Agnes Heller e Ferenc Fehér veem o fim da tragédia como seguindo de perto os calcanhares da morte de Deus, em vez de ver o alto estilo trágico como a compensação a uma divindade ausente. O mundo moderno é o teatro do deus absconditus, um abismo ontológico no qual a liberdade e a dignidade trágicas desapareceram sem deixar vestígios.
Há também aqueles para quem a tragédia não pode sobreviver ao Holocausto, ou à perda generalizada de significado da modernidade tardia, ou à subjetividade profunda e descentralizada do pós-modernismo. Em contraste, A tragédia moderna, de Raymond Williams, uma réplica a George Steiner em seu próprio título, vê a arte trágica mantendo o vigor no século XX.
George Steiner recrimina tanto o cristianismo quanto o marxismo por terem colaborado para o declínio da tragédia: “O menor toque de qualquer teologia que tenha um Céu compensador para oferecer ao herói trágico é fatal”. Nesse cálculo, uma das figuras trágicas mais comoventes da ficção inglesa – Clarissa, de Samuel Richardson, que acredita devotamente na vida após a morte – não é trágica de forma alguma, nem Hamlet, se ele realmente acredita que a felicidade no sentido de paraíso, em vez de esquecimento misericordioso, é onde está o seu destino.
Tanto o marxismo quanto o cristianismo são fundamentalmente esperançosos, enquanto a tragédia termina mal na visão de George Steiner. No entanto, isso é certamente duvidoso. Aristóteles fala de uma transição da miséria para a felicidade, bem como o inverso. A Oresteia termina com uma nota positiva: boa parte do drama trágico mistura uma tensão de esperança, embora tímida e provisória, com a lamentação. O que é trágico não é apenas uma conclusão calamitosa, como George Steiner parece imaginar, mas o fato de que homens e mulheres devem ser arrastados pelo inferno para serem redimidos; que muitos deles, como Édipo e Lear, não sobreviverão a esse processo purgatorial; e que, mesmo que sobrevivam, não há garantia de que emergirão dele em forma espiritual mais animada.
Além disso, o que é trágico não é simplesmente o trauma de ruptura e reconstrução, mas o fato de que isso é necessário em primeiro lugar. Somente porque a nossa humanidade está tão desfigurada, e a autoilusão tão profundamente enraizada, é que esses batismos de fogo são essenciais. Seria melhor se os reformistas estivessem certos e pudéssemos evoluir para um futuro de justiça e camaradagem sem a necessidade de autoexpropriação radical.
Infelizmente, aqueles que sustentam essa visão são os verdadeiros fantasistas utópicos, enquanto os realistas impassíveis são os que veem a tragédia como um esforço para contemplar a cabeça da Medusa do Real sem serem transformados em pedra.
11.
Tanto o marxismo quanto o cristianismo são de fato doutrinas trágicas, mas isso não é porque eles preveem um fim desastroso para a história. É porque eles estão conscientes do preço terrível que um mundo injusto deve pagar por sua redenção. O chamado Novo Testamento é notável por ser um documento trágico, mas não heroico. Não há nada de minimamente nobre ou edificante na morte sórdida de seu protagonista marginal, uma morte tradicionalmente reservada pelo poder imperial romano para insurgentes políticos.
Kathleen M. Sands escreve que “a fé teísta é precisamente a convicção de que a tragédia é apenas aparente e que as perdas contadas na tragédia não são realmente definitivas”; mas, embora o sofrimento possa ser finalmente superado, isso só pode acontecer se a sua realidade for confrontada, e é essa dupla ótica que tanto os pessimistas quanto os panglossianos falham em reconhecer. O corpo ressuscitado de Jesus, ainda carregando as marcas de suas feridas, não pode anular o fato de sua tortura e humilhação.
Nem mesmo Deus pode mudar o passado. Ele não pode fazer com que aqueles que morreram em tormento tenham realmente morrido em regozijo. É verdade que a fé cristã oferece a promessa de um futuro além da tragédia – um mundo em que tudo o que estiver rompido será reconstituído, aqueles que choram serão consolados e todas as lágrimas serão enxugadas –, mas esse futuro só pode ser alcançado por meio da passagem através da morte e do abandono.
Quanto a Marx, aqueles que afirmam que “ele repudiou todo o conceito de tragédia” ignoram, entre outras coisas, seu horror à destruição dos tecelões ingleses de teares manuais, a qual ele vê como um processo profundamente trágico, bem como seu comentário de que o capitalismo surge escorrendo sangue por todos os poros. Gilles Deleuze está enganado, portanto, ao afirmar que “a dialética em geral não é uma visão trágica do mundo, mas, ao contrário, a morte da tragédia, a substituição da visão trágica por uma concepção teórica (com Sócrates) ou uma concepção cristã (com Hegel)”. Marx é um dialético para quem a elaboração do conflito envolve perdas irreparáveis. Aqueles que pereceram na luta de classes não serão recompensados por quaisquer sucessos que seus descendentes sejam capazes de registrar.
12.
Em A tragédia moderna, Raymond Williams considera as revoluções anticoloniais do século XX como constitutivas de uma única ação trágica estendida no espaço e no tempo; mas ao chamá-las de trágicas ele não quer dizer que essas insurreições foram derrotadas, ou que foi loucura lançá-las em primeiro lugar. Ele quer dizer, antes, que os crimes do colonialismo foram tão monstruosos que resolvê-los envolveu uma luta até a morte, e aqui reside a tragédia. Que a vida deva surgir da morte não é motivo para comemoração, mas é preferível a não haver vida alguma.
George Steiner de A morte da tragédia insiste que a tragédia implica valor, mesmo que também a questione. Não lamentamos a perda do que consideramos sem valor. A morte de um inseto não é uma ocasião para a retórica raciniana. Talvez a tragédia final fosse uma condição na qual estivéssemos tão descuidados com o valor humano que não seríamos mais capazes de lamentar. “[O] homem [trágico]”, comenta George Steiner, “é enobrecido pelo rancor vingativo ou pela injustiça dos deuses. Não o torna inocente, mas o santifica como se tivesse passado pela chama”.
Mais tarde, no entanto, defendeu que qualquer exaltação desse tipo significa a ruína da tragédia. Até mesmo Shakespeare, com a única exceção de Timon de Atenas, demonstra-se, nessa visão deprimente, insuficientemente sombrio para se qualificar para a chamada arte trágica “absoluta”, na qual “a nulidade devora como um buraco negro”.
Se a tragédia deve ser absoluta, o que dizer daquelas situações em que as esperanças de alguém poderiam ter sido preenchidas, mas estão, na verdade, frustradas? Isso não é mais pungente do que uma esperança estéril desde o início? Jude Fawley, de Thomas Hardy, morre tendo consciência de que há planos para fundar uma faculdade para trabalhadores na universidade que o excluiu, fato que empresta uma ponta mais afiada ao seu próprio fracasso, ao mesmo tempo que qualifica qualquer desespero absoluto.
Há, de fato, notavelmente poucas tragédias de inclinação niilista inflexível – certamente não Timon, a menos que se leia a peça endossando, de forma absurda, a misantropia enlouquecida de seu protagonista –, mas, aos olhos de Steiner, tais instâncias de melancolia incessante são definitivas da forma. O menor lampejo de positividade provavelmente dará conforto aos defensores obstinados da engenharia social.
Ele poderia ter listado em seu apoio os dramaturgos do Trauerspiel examinados em A origem do drama trágico alemão, de Walter Benjamin, que, em uma Europa devastada pela Guerra dos Trinta Anos, apresentam a existência humana como vazia e vã. Em vez disso, propõe o Woyzeck implacavelmente triste de Büchner como exemplar do modo trágico, embora seu protagonista esteja longe de ser nobre, o tipo de herói trágico que Steiner geralmente prefere.
A peça também data de bem depois da época em que The Death of Tragedy supõe que a tragédia tenha expirado, expulsa por uma aliança profana entre ciência, racionalismo, secularismo, democracia e a brutalização da linguagem por uma modernidade degradada. Elogios profusos também são feitos à obra de Kleist, Hölderlin e Wagner, embora, assim como Büchner, todos os três escrevam depois do momento em que se diz que a tragédia se calou.
13.
Se a tragédia sobrevive ou não aos gregos antigos depende, entre outras coisas, do que se quer dizer com o termo. Se Sófocles e Tchekhov são trágicos em sentidos bem diferentes, então a questão da continuidade é complicada. “A tragédia”, escreve Raymond Williams, “não é um tipo de fato único e permanente, mas uma série de experiências, convenções e instituições”. Se é assim, no entanto, então somos obrigados a perguntar por que chamamos todas essas experiências, convenções e instituições pelo mesmo termo.
O nome é tudo o que elas têm em comum ou denota um único fenômeno? É uma disputa entre os nominalistas e os essencialistas, ou os historicistas e os universalistas. Aristóteles pertence ao último campo em sua crença de que a poesia é uma forma mais universal do que a história, enquanto outros adotam uma visão historicamente mais relativa. Friedrich Hölderlin defende um vínculo orgânico entre a tragédia grega antiga e o republicanismo, convencido de que somente com a recriação de tais condições políticas a arte trágica pode prosperar novamente.
A Revolução Francesa, portanto, oferece a possibilidade de seu renascimento. Enquanto isso, a tragédia, na visão de Hölderlin, definhou. Ela declinou de sua antiga grandeza para o sentimentalismo e o sensacionalismo. Há um sentido em que isso também é verdade para Karl Marx, que, na célebre passagem de abertura de O 18 brumário de Luís Bonaparte, contrasta sardonicamente o espírito nobre da antiga república romana com as tentativas espalhafatosas dos revolucionários burgueses modernos de se enfeitarem com suas vestes. Levados a se enganar sobre o escasso conteúdo de suas próprias insurreições, eles se esforçam em uma mistura de farsa e páthos “para manter a paixão deles no alto plano da grande tragédia histórica”.
Em A origem do drama trágico alemão, Walter Benjamin insiste na especificidade histórica da tragédia, argumentando que apenas a variedade grega antiga realmente merece o termo. A filosofia da tragédia, ele critica, é um discurso desistoricizante, reduzindo a tragédia a um conjunto generalizado de sentimentos em condições históricas bastante diferentes. “O trágico” não existe. Não há nada no teatro moderno que remotamente se assemelhe a Ésquilo ou Sófocles.
O Trauerspiel alemão do século XVII, por outro lado, está explicitamente vinculado ao seu contexto histórico. Em um estudo intitulado Hamlet or Hecuba? [Hamlet ou Hécuba?], o filósofo Carl Schmitt é igualmente cético em relação a uma visão universalista da arte, sobretudo porque a era moderna é incapaz de produzi-la. O erudito clássico Jean-Pierre Vernant insiste que a tragédia é particular aos gregos antigos e que, apenas um século ou mais depois, o próprio Aristóteles é incapaz de realmente entendê-la.
Bernard Williams também considera a tragédia como específica da Grécia antiga, mas sugere que as noções éticas modernas se aproximam da visão grega da vida humana. As teorias da tragédia também podem fazer parte dos contextos históricos: na visão de Simon Goldhill, a filosofia da tragédia de Hegel apela às normas e aos valores coletivos da tragédia grega antiga como resposta ao universalismo abstrato e ao individualismo de Immanuel Kant. “Para Hegel”, sustenta Goldhill, “a tragédia é porta de entrada para repensar a noção de sujeito de Kant”. As teorias trágicas alemãs que examinaremos a seguir propõem uma ideia universal de tragédia, mas essa visão em si é produto de um momento histórico único.
É possível sustentar uma ideia essencialista da tragédia enquanto também se afirma que, como forma dramática, ela desapareceu há muito tempo. Por esse ângulo, a tragédia captura a realidade da condição humana, mas as condições artísticas e históricas não são mais favoráveis para sua representação no palco. Se a tragédia é parte do espírito humano em geral, então é difícil ver como ela pode morrer; e ela só pode se manifestar artisticamente em certos momentos históricos importantes.
14.
É possível, no entanto, que a escolha entre o historicismo e o universalismo, ou o nominalismo e o essencialismo, seja desnecessária. Talvez seja verdade, com o devido respeito aos essencialistas, que não haja uma única característica que todas as tragédias compartilhem. Nem todas as obras que chamamos de trágicas apresentam um destino malévolo ou a queda dos poderosos, uma falha fatal ou insinuações do Absoluto, uma exaltação do espírito ou um Deus ausente.
No entanto, há tópicos sobrepostos e semelhanças familiares suficientes entre as chamadas obras trágicas para que o caso nominalista seja igualmente implausível. Sem dúvida, todos os textos que denominamos de trágicos têm uma característica em comum, a saber, algum tipo de aflição ou adversidade, e nesse ponto os essencialistas estão certos.
Até Raymond Williams, tendo lançado dúvidas sobre a ideia de uma essência trágica em um estudo, modifica sua posição em outro, argumentando que “o conceito de tragédia ainda representa um agrupamento razoável de obras, embora difícil, de certo modo em torno da morte e do sofrimento extremo e da desintegração”. Mas a diversidade de tal sofrimento o reduz ao mais fino dos denominadores comuns, o que por sua vez deve satisfazer o mais entusiástico culturalista ou historicista. Além disso, a comédia não é estranha à dor e à angústia, como Shylock e Malvólio podem atestar.
A tragédia, no sentido cotidiano de fracasso e colapso, é, de fato, universal. Nem mesmo a mais utópica das ordens sociais seria intocada por ferimentos mortais, desejos frustrados e relacionamentos rompidos. O preço de rejeitar uma visão como a morte de príncipes por um sentido mais comum do termo é que certos tipos de tragédia se tornam irreparáveis, o que pode não ser o caso se estiver confinado aos assuntos de uma elite.
Os príncipes podem deixar de travar guerras, mas não há um término aparente para a mágoa ou o ciúme sexual. Pode-se despojar o trágico de seu privilégio, então, mas apenas ao custo de aceitar que parte dele veio para ficar. O câncer sem dúvida será curado, mas a morte não. Talvez devêssemos hesitar antes de desejar uma vida além da tragédia, já que uma das maneiras mais seguras de alcançá-la seria perder nosso senso de valor. No entanto, mesmo que sempre haja esperanças arruinadas e ferimentos irreversíveis, não se segue que haja uma linhagem ininterrupta de arte que dramatize essas coisas da mesma maneira; e já notamos que a arte trágica não é, de forma alguma, comum a todas as civilizações.
Assim, a questão é se a tragédia morre ou simplesmente se transforma. Com o surgimento da sociedade de classe média, o foco começa a mudar de uma ação coletiva para o herói individual. Para Friedrich Schelling, como veremos mais adiante, a ação trágica é internalizada, psicologizada e individualizada de uma forma em desacordo com o antigo teatro grego, ao qual ele acredita ser fiel.
O que para Aristóteles é questão de ação, para Schelling é questão de consciência. Todo processo trágico deve fluir de um estado interior do ser, não de condições históricas. Conflito e rebelião são, em grande parte, assuntos internos, pois a alma solitária e superior do herói é dilacerada apenas para ser gloriosamente restaurada à totalidade. Há os críticos de mente aberta, para quem essa é uma nova versão intrigante da tradição trágica, e as almas mais puristas, para quem não é tragédia de jeito nenhum.
15.
Em Ou-Ou, Søren Kierkegaard vê a marca registrada da tragédia moderna como a autorresponsabilidade absoluta – e, portanto, culpa absoluta – de um protagonista que se mantém ou cai inteiramente em virtude de seus próprios atos. Pode-se contrastar isso com a versão antiga da arte, com sua intrincada interação entre crime e inocência, o eu e o Outro, agente livre e circunstância restritiva. Aos olhos de Kierkegaard, esse individualismo trágico deve ser elogiado. Ele representa um ganho sobre o que aconteceu antes.
Esse não é o caso de Hegel, no entanto, que argumenta em sua Estética que a tragédia moderna individualiza o conflito de forma que o reduz a um caso puramente externo e acidental. O herói trágico da Antiguidade é uma espécie superior de ser, alguém que é criado acima do cidadão médio e está sujeito à necessidade de uma maneira especial. Tais figuras são, de acordo com Hegel, o meio de forças histórico-mundiais, mas isso não pode ser dito dos personagens mais intensamente psicologizados do palco trágico moderno.
A arte trágica de Shakespeare, por exemplo, não surge do desenrolar rigoroso do destino, mas de circunstâncias infelizes que sempre poderiam ter sido diferentes. A reconciliação torna-se um assunto mais interno e psicológico, como acontece com os críticos neo-hegelianos (por exemplo, A. C. Bradley em A tragédia shakespeareana). Com o desaparecimento da ideia de destino, desbaratada por um senso moderno do fortuito e do contingente, a arte de um Ésquilo ou um Sófocles não é mais possível.
É um preconceito que Hegel compartilha com o adversário filosófico Friedrich Nietzsche, para quem a tragédia moderna deixou de ser uma arte da esfera pública e, em vez disso, foi individualizada e conduzida para a esfera privada. As esperanças de Nietzsche no renascimento de uma cultura trágica giram em torno da renovação da esfera na qual o surgimento de uma mitologia compartilhada desempenhará papel vital.
A morte da tragédia pode, às vezes, ser um código para a morte da tragédia grega. Alguns daqueles que identificam a arte com o teatro de Ésquilo, Sófocles e Eurípides tendem a anunciar seu fim quando encontram tragédias concebidas em diferentes circunstâncias históricas. Esse é certamente o caso de A Short View of Tragedy: Its Original Excellence and Corruption [Uma breve visão da tragédia: sua excelência original e corrupção] (1693), de Thomas Rymer, como o título sugere.
É como se alguém declarasse que a poesia está morta porque não é mais invariavelmente composta em dísticos heroicos, ou que o Boeing não é uma aeronave porque não é um Tiger Moth. Fomos informados com bastante frequência que deuses, mitos, destino, protagonistas de alta linhagem, um espírito de exaltação e um senso do numinoso são essenciais para a tragédia, mas geralmente não nos dizem o porquê.
Talvez o papel dos olímpicos na tragédia grega seja demonstrar a coragem dos que desafiam seus esquemas malévolos ou se submetem bravamente ao destino que decretam; mas é possível dramatizar tais virtudes sem um panteão de divindades moralmente desonrosas à mão, e boa parte da tragédia posterior faz precisamente isso.
16.
Longe de acabar com a tragédia, a modernidade pode muito bem ter lhe emprestado um novo sopro de vida. Antes de mais nada, ela inflou imensuravelmente as fileiras de potenciais protagonistas trágicos. Em uma era democrática, qualquer um arrancado da rua e colocado em um apuro intolerável é um possível candidato. Como Rita Felski observa, “nessa visão democratizada do sofrimento, a alma de um bancário ou de uma balconista se torna campo de batalha no qual forças importantes e incalculáveis se desenrolam”.
Horácio aconselha os poetas a não permitirem que os deuses falem com sotaques plebeus, e sem dúvida os heróis trágicos também não deveriam, mas quando se trata de heróis modernos, deixamos de lado esse toque de esnobismo. Do Iluminismo em diante, somos confrontados com a proposição alucinante (longamente antecipada pelo cristianismo) de que homens e mulheres devem ser valorizados somente por sua filiação à espécie humana, não por sua posição, caráter, gênero ou origem étnica.
Nesse sentido, é a diferença que pode ser reacionária, não a identidade. Arthur Miller aponta que a teoria psicanalítica desempenha certo papel nesse credo revolucionário, uma vez que as estratégias do inconsciente são indiferentes às divisões sociais. Fonte antiga tanto da comédia quanto da tragédia é o fato de que qualquer um pode desejar qualquer outra pessoa. O desejo não respeita distinções sociais, o que também é verdade para o seu terrível gêmeo freudiano, a morte.
Mesmo assim, a ideia de que qualquer um pode ser sujeito de tragédia pode ter implicação menos positiva. Pode significar que a tragédia seja a única conquista excepcional que está ao alcance das pessoas comuns. É isso que Eugene O’Neill tem em mente quando escreve: “A tragédia do Homem é talvez a única coisa significativa sobre ele. […] A vida individual se torna significativa apenas pela luta”. A era moderna está tão moralmente falida que um fim trágico é o único valor a que a maioria de nós pode aspirar.
Existem outras razões pelas quais a modernidade pode facilitar a tragédia em vez de frustrá-la. Estamos recentemente cientes dos limites da razão, da fragilidade e da opacidade do sujeito humano outrora soberano, de sua exposição a forças enigmáticas além de seu controle, das restrições impostas à sua agência e autonomia, de sua fonte em um Outro anônimo que parece inexpressivamente indiferente ao seu bem-estar, do inevitável conflito de bens em uma cultura pluralista, da densidade complexa de uma ordem social na qual o dano humano pode se espalhar como febre tifoide.
Essa é uma condição não totalmente remota da condição de uma cultura pequena e fortemente interligada como a Atenas das tragédias. Em tempos pós-freudianos, também podemos achar possível perguntar quem está realizando determinada ação, mesmo que a resposta em nosso caso não seja Hera ou Zeus, ou se não há algum hiato fatal entre a intenção e o efeito embutido em nosso comportamento.
17.
Unidos em um planeta globalizado, um senso de pecado original – o conhecimento de que nós, como inocentes culpados, não podemos nos mover na malha espessa de conexões sem involuntariamente causar dano a alguém, em algum lugar – encena um retorno. Há também a questão de se o planeta sobreviverá ao ato final de arrogância da humanidade, seja na forma de desastre ecológico ou devastação nuclear. Essa é a natureza do “poder que um homem invoca contra seu próprio ser quando lhe dá as costas”, como Hegel coloca.
Além disso, ao alimentar tais aspirações faustianas, a modernidade corre o risco de testemunhar seu ignominioso colapso. Nenhum período histórico liberou poderes humanos tão abundantemente quanto a era moderna, e nenhum corre, portanto, mais risco de ser dominado pelas forças que ele desencadeia. Como Max Weber observa: “A multidão de deuses antigos, desencantados e, portanto, na forma de forças impessoais, estão saindo de seus túmulos, lutando pelo poder sobre nossas vidas e retomando a sua eterna luta uns com os outros”.
Por toda a insensibilidade ao sofrimento humano, há algo a ser dito sobre a alegação aparentemente perversa de que a tragédia é um modo afirmativo (uma vez que foi despojada de todo um conjunto de suposições duvidosas): que isso ocorre porque retrata o triunfo do espírito humano indomável, que confrontar a adversidade deve ser invariavelmente moderado e contido, que somente em tal extremo a essência da humanidade é exposta ou que o perfil de uma ordem providencial pode ser visível através do que pode parecer, à primeira vista, puro infortúnio.
Essas não são as maneiras mais convincentes pelas quais a tragédia pode inspirar seu público. Antes, trata- -se de que o espetáculo daqueles que estão em perigo mortal ou dor atroz pode renovar nosso senso de valor da humanidade que está sob cerco. Mesmo assim, o que os filósofos da tragédia em geral deixam de acrescentar é que há outras maneiras igualmente frutíferas de relembrar o que prezamos sobre os seres humanos, que não apreciamos seu valor apenas os observando morrer.
Há aqueles, como Jacques Lacan e Slavoj Žižek, para quem o gulag e o Holocausto não podem ser descritos como trágicos, já que o horror que eles revelam é tão profundo que não é possível ser sublimado em dignidade trágica. Descrever os confinados atingidos dos campos nazistas como trágicos, afirma Žižek, é uma obscenidade moral. É como se o mero ato de atribuir significado a tais ultrajes fosse um gesto de traição. Mas o sem sentido é o absurdo, e o gulag e o Holocausto certamente não foram isso.
Afirmar que eles fazem algum tipo de sentido não é, por isso, investi-los de valor. O inteligível não é o mesmo que o moralmente aceitável. Há os que temem que falar coerentemente sobre os campos de concentração seja conspirar com as formas repressivas da razão que ajudaram a criá-los. No entanto, a racionalidade também desempenhou papel fundamental para pôr fim a essas atrocidades. Em todo caso, não é como se enfrentássemos uma escolha entre o totalmente sem sentido, por um lado, e o lucidamente significativo, por outro.
18.
Não é preciso abraçar o absurdo para rebaixar algum grande esquema de significância, embora possa haver um elemento do ridículo na mais exaltada das tragédias. A tragédia grega antiga está ciente de que há algo que transcende a construção de sentido, mas isso não quer dizer que as atrocidades humanas derrotem todo o raciocínio.
Tomás de Aquino sustenta que, quando falamos de Deus, não sabemos do que estamos falando, mas, mesmo assim, preenche grande número de volumes sobre Ele. Para Freud, o não significado reside na raiz do significado, mas isso não é motivo para abandonar a significação.
Em todo caso, com o devido respeito a Žižek, não há necessidade de um evento envolver dignidade ou nobreza para que ele seja qualificado como trágico. É necessário, com certeza, que envolva um senso de valor, mas isso não precisa se manifestar em alguma grandeza de espírito nas figuras que vemos no palco. Podemos ser nós, o público, que atuamos como guardiões de sua humanidade quando as figuras em cena sentem que ela está escapando delas.
Eugene O’Neill afirma que a tragédia deve ter uma “nobreza transfiguradora” sobre ela, mas ele falha em notar essa distinção entre a experiência dos personagens e a do público. Os prisioneiros de Belsen ou Buchenwald não tiveram que morrer santificados por seus sofrimentos, ou com uma corajosa resignação ao seu destino, ou conscientes de si como figuras históricas mundiais, ou exultantes no pensamento de que, embora eles pudessem perecer, o próprio espírito humano é invencível, para ganhar o título de trágico. Eles somente tiveram que ser homens e mulheres em uma situação intolerável.
A verdade banal é que não é preciso fazer nada em particular para se qualificar como um protagonista trágico. É preciso simplesmente ser um ser humano no fim de seu limite. Não é preciso ser virtuoso, apenas virtuoso o suficiente para não merecer a miséria à qual se é reduzido. A tragédia, na frase schopenhaueriana, é a fábula de um grande infortúnio. Não importa se ocorre dentro ou fora do palco, se é visitado por Zeus ou acontece por puro acidente, se o protagonista é uma princesa ou um motorista, se você planeja a própria queda ou é abatido por outros, se o evento resulta em reconciliação ou em um impasse, ou se testemunha um espírito humano transcendente. Na maior parte das vezes, é o público em geral, fiel a esses princípios, que usa a palavra “tragédia” da maneira mais produtiva, e são os teóricos que normalmente falham.
19.
A tragédia apresenta seres humanos em estados extremos, o que é, sem dúvida, uma das razões pelas quais o Modernismo, que está muito preocupado com o que se poderia chamar de Sala 101 do espírito humano, é tão favorável à forma. Como J. M. Coetzee observa em À espera dos bárbaros: “a última verdade é dita apenas na última extremidade”. É a visão do torturador sobre a humanidade, a que assume que a verdade e a vida cotidiana são antitéticas. Dessa maneira, o protagonista trágico é lançado em uma situação que faz que suas ilusões rotineiras e os compromissos comuns caiam como muitos farrapos, enquanto ele é levado face a face com a verdade de sua identidade.
Como veremos em um capítulo posterior, Willy Loman de Arthur Miller é um espécime misto. Willy se apega à sua falsa consciência até o fim; no entanto, ao se negar a recuar dessa identidade falsa, ele também se nega a desistir de sua exigência do reconhecimento que uma sociedade corrupta é incapaz de satisfazer. É essa tenacidade aterrorizante, ao mesmo tempo corajosa e iludida, que o leva à solidão e à morte.
Nesse sentido, Willy Loman exibe uma intransigência admirável, mas alarmante, que persegue o palco trágico tão cedo quanto os protagonistas obstinados, rabugentos e magnificamente inflexíveis de Sófocles. Há certa tradição de figuras trágicas que são movidas por alguma compulsão interna para permanecerem leais a um compromisso que envolve todo o seu ser e que prefeririam ser arrastadas para a morte em vez de ceder a um desejo que prezam mais do que a própria existência.
É isso que Jacques Lacan chama de desejo do Real, uma forma de anseio em que Eros e Tânatos estão intimamente interligados. Em nenhum lugar essa recusa é mais óbvia do que na leitura lacaniana da Antígona de Sófocles, uma figura que em A ética da psicanálise, Lacan considera como habitante de algum reino transcendente além da razão, da ética e da significação, um avatar enigmático do Absoluto que se posiciona no limite extremo da ordem simbólica e não pode suportar estar sujeito à sua lei. Dado que a morte também espreita nessa fronteira, não é surpreendente que ela e a heroína se encontrem em termos tão íntimos.
Fiel a essa leitura, Slavoj Žižek afirma que Antígona representa uma “fidelidade incondicional à Alteridade da Coisa que perturba todo o edifício social”. No confronto entre Creonte e Antígona, comenta Žižek, não há “nenhum diálogo, nenhuma tentativa (por parte de Antígona) de convencer Creonte das boas razões para seus atos por meio de argumentos racionais, apenas a insistência cega em seus direitos”.
Somos convidados a admirar uma personagem surda à razão, desdenhosa da sociedade humana, arrogantemente inflexível em sua suprema autoconfiança, arrebatada pela ideia da morte, altivamente desdenhosa da virtude menor, mas honrosa da prudência e sem nenhuma compreensão muito firme de sua motivação. O ato de desafiar Creonte é de pura recusa e rebelião, um evento “milagroso” que atinge os fundamentos da ordem social. Se for assim, então não está claro por que ela é apresentada pela peça como agindo em obediência à obrigação consagrada pelo tempo e à vontade dos deuses.
É impressionante como essa figura idealizada, que às vezes navega de forma embaraçosa perto do pseudoexistencialista adolescente da versão de Jean Anouilh da peça de Sófocles, está tão exatamente alinhada com a leitura espiritualmente elitista da tragédia que já consideramos. A interpretação lacaniana de Antígona é legatária dessa linhagem conservadora, ao mesmo tempo que lhe empresta uma reviravolta aparentemente radical. O desdém agudo de Lacan pela vida cotidiana é característica comum do pensamento francês de esquerda, com devoção a algum ato puro, verdade superior, recusa inflexível, gesto gratuito, violência purificadora, rebelião absoluta ou culto glamouroso de autenticidade.
Uma inconsequente nobre aversão pela prudência, pela equivalência e pelo cálculo é preferível à mentalidade calculista da pequena burguesia. O esplendor estético de um ato puro de revolta conta mais do que os atos comuns de compaixão. Em uma política de eterna revolta, uma mais boêmia do que bolchevique, o louco, violento, maligno e monstruoso subvertem as ortodoxias sombrias da sociedade suburbana.
20.
No entanto, nem todas as ortodoxias são perniciosas, nem todas as subversões, revolucionárias. A ortodoxia social atualmente inclui a proteção de minorias étnicas contra abusos e o direito de trabalhadores e trabalhadoras à greve. Em A visão em paralaxe, Slavoj Žižek adota a distinção elitista de Kierkegaard entre o rotineiramente ético e o autenticamente religioso.
No entanto, o escândalo do Evangelho cristão é que Deus está mais fundamentalmente presente não no culto, no ritual ou na experiência interior, mas no ato de visitar os doentes e de alimentar os famintos. A ideia da vida comum, difamada de forma sublime por tanta teoria da tragédia, foi na verdade inventada pelo cristianismo, que é, em alguns aspectos, uma forma de antirreligião. O ético é, simplesmente, como a fé religiosa é vivida na prática cotidiana. Para aqueles que encontram um toque de banalidade nessa visão, no entanto, a ética é um domínio reservado aos plebeus espirituais deste mundo, enquanto os aristocratas da vida interior se movem em uma esfera além do bem e do mal.
Se o eterno rebelde vagueia à beira da ordem simbólica com pouco mais que desprezo por ela em seu coração, o mesmo acontece com o terrorista. O desafio de Antígona a uma autoridade injusta pode ser um ato “monstruoso”, pelo menos do ponto de vista da convenção social, mas explodir cabeças de crianças pequenas se encaixa nessa descrição de forma mais exata.
Os patriarcas obstinados, como Creonte, oferecem um alvo fácil para as Antígonas deste mundo, mas e se tais rebeldes se encontrassem diante de uma ordem socialista- -feminista? Os campeões ainda estariam tão ansiosos para honrar o ato de rejeição? A oposição entre o rebelde e a ordem política é puramente formalista. Ela obscurece a questão de qual forma de revolta está em jogo, contra qual tipo de soberania. Existem maneiras preciosas de autoridade e atos infantis de dissidência.
O que essa versão de Antígona tem a oferecer é realmente uma forma de elitismo de esquerda. De certo ponto, é uma versão radical do steinerismo até a questão da morte da tragédia. Citando o famoso ditado de Hegel de que nenhum homem é herói para seu criado, Žižek reclama que, na era moderna, “todas as posturas superiores dignas são reduzidas a motivações inferiores”. A Modernidade diminuiu a capacidade de sublimidade. Para ele, assim como para o Nietzsche das Meditações intempestivas, estamos condenados a existir em um mundo sem heróis, uma perspectiva que alegrava o coração de Bertolt Brecht.
O que Žižek denomina de violência ética – situação na qual, uma vez que os pontos de vista morais são mutuamente incomensuráveis, temos que lutar contra isso em vez de tentar um acordo – deu lugar a um consensualismo desprezível. Em uma veia nietzschiana, a própria vida é Vontade de Poder, uma questão de luta e contenção. Devemos, portanto, romper com as ilusões habermasianas (ou apolíneas) de racionalidade reunindo o vigor espiritual de que precisamos para encarar o Real (ou dionisíaco) de frente.
No entanto, não é verdade, como o relato conservador da tragédia assume (incluindo sua versão lacaniana), que o extremo e a vida comum estejam sempre em desacordo. O fato de que tudo continua normalmente, observa Walter Benjamin, é a crise. George Eliot fala, em Middlemarch, sobre “aquele elemento da tragédia que reside no próprio fato da frequência”, ou seja, aqueles estados de desespero silencioso que geralmente são persistentes demais para que tratemos com a sensibilidade que exigem. Na sociedade da autora, eles eram geralmente a experiência das mulheres.
“Se nós tivéssemos uma visão e um sentimento aguçados de toda a vida humana comum”, observa George Eliot, “seria como ouvir a grama crescer e o coração do esquilo bater, e morreríamos daquele rugido que se encontra do outro lado do silêncio. Da forma como é, os mais rápidos de nós andam por aí bem acrescidos de estupidez”. Esse isolamento da dor certamente parece ser o caso de alguns teóricos tradicionais da tragédia.
*Terry Eagleton, filósofo e crítico literário, é professor emérito de literatura inglesa na Universidade de Oxford. Autor, entre outros livros, de O acontecimento da literatura (Unesp). [https://amzn.to/3Z8cRnn]
Referência
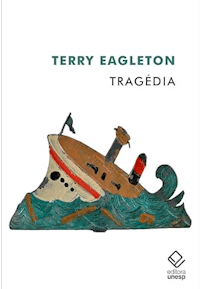
Terry Eagleton. Tragédia. Tradução: Rachel Meneguello. São Paulo, Unesp, 2025, 226 págs. [https://amzn.to/4tu050R]

