
William Claxton
Numa
rara entrevista, o vencedor do Prémio Nobel fala sobre mortalidade, a
busca de inspiração no passado e o seu novo álbum “Rough and Rowdy Ways”
Por Douglas Brinkley (Professor
catedrático de humanidades e professor de história na Universidade Rice
e autor de “American Moonshot: John F. Kennedy and the Great Space
Race”)
Há
alguns anos, sentado à sombra das árvores em Saratoga Springs, Nova
Iorque, tive uma conversa de duas horas com Bob Dylan, onde abordámos
Malcolm X, a Revolução Francesa, Franklin Roosevelt e a II Guerra
Mundial. A certa altura, perguntou-me o que eu sabia sobre o Massacre de
Sand Creek de 1864. Quando respondi, “não o suficiente”, levantou-se da
sua cadeira, entrou no autocarro da digressão e voltou cinco minutos
depois com fotocópias que descreviam como as tropas dos Estados Unidos
chacinaram centenas de Cheyenne e Arapahoe pacíficos no sudeste do
Colorado.
Dada a natureza da nossa relação,
senti-me à vontade para o contactar em abril, depois de, no meio da
crise do coronavírus, ter inesperadamente lançado a sua canção épica de
17 minutos, ‘Murder Most Foul’, sobre o assassínio de Kennedy. Apesar de
não ter dado nenhuma grande entrevista, a não ser na sua própria
página, desde que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2016, concordou
com uma conversa telefónica a partir da sua casa em Malibu, que acabou
por ser a sua única entrevista antes do lançamento, na sexta-feira 19 de
junho, de “Rough and Rowdy Ways”, o seu primeiro álbum de originais
desde “Tempest”, em 2012.
Tal como a maioria das
conversas com Dylan, “Rough and Rowdy Ways” aborda territórios
complexos: transes e hinos, blues desafiadores, anseios de amor,
justaposições cómicas, jogos de palavras que nos pregam partidas, ardor
patriótico, perseverança rebelde, cubismo lírico, reflexões próprias do
crepúsculo da vida e contentamento espiritual.
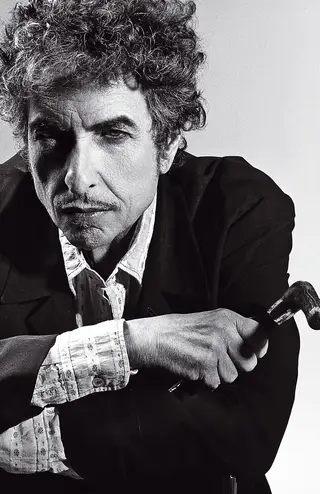
William Claxton
Na extraordinária ‘Goodbye Jimmy Reed’, Dylan homenageia o cantor de blues do Mississípi com intensos riffs
de harmónica e letras imorais. No blues lento ‘Crossing the Rubicon’,
sente “os ossos sob a minha pele” e considera as suas opções antes da
morte: “Three miles north of purgatory — one step from the great beyond/
I prayed to the cross and I kissed the girls and I crossed the
Rubicon.”
‘Mother of Muses’ é um hino ao mundo
natural, a coros de gospel e a militares como William Tecumseh Sherman e
George Patton, “who cleared the path for Presley to sing/ who cleared
the path for Martin Luther King”. E ‘Key West (Philosopher’s Pirate)’ é
uma meditação etérea sobre a imortalidade que se desenrola numa viagem
pela Route 1 até às Florida Keys, com o acordeão de Donnie Herron a
canalizar Garth Hudson dos The Band. Nela presta homenagem a “Ginsberg,
Corso e Kerouac”.
Talvez um dia escreva uma canção
ou pinte um retrato em homenagem a George Floyd. Nos anos 60 e 70,
depois do trabalho dos líderes negros do movimento dos direitos civis,
Dylan também trabalhou para expor a arrogância do privilégio branco e a
viciosidade do ódio racial na América através de canções como ‘George
Jackson’, ‘Only a Pawn in Their Game’, e ‘The Lonesome Death of Hattie
Carroll’. Uma das suas frases mais fortes sobre policiamento e raça
surge na sua balada ‘Hurricane’ de 1975: “In Paterson that’s just the
way things go/ If you’re black you might as well not show up on the
street/ Unless you want to draw the heat”.
Todo
o ser humano, não importa o quão forte ou poderoso é, é frágil quando
se trata de morte. Penso nisso em termos gerais, não de forma pessoal”
Falei
um pouco com Dylan, 79 anos, um dia depois de Floyd ter sido morto em
Minneapolis. Claramente abalado pelo horror que tinha acontecido no seu
estado natal, parecia deprimido. “Fiquei maldisposto por ver George
torturado até à morte daquela maneira”, disse. “Foi para lá de
horroroso. Esperemos que a Justiça seja rápida para a família de Floyd e
para a nação.”
Estes são trechos editados das duas conversas.
‘Murder Most Foul’ foi escrito como uma elegia nostálgica por um tempo há muito perdido?
Para
mim, não é nostálgico. Não penso em ‘Murder Most Foul’ como uma
glorificação do passado ou algum tipo de despedida de uma idade perdida.
Toca-me no momento. Sempre o fez, especialmente quando estava a
escrever a letra.
Alguém leiloou uma série de
transcrições não publicadas, na década de 90, que escreveu sobre o
assassínio de J.F.K. Essa prosa eram notas para um ensaio ou estava à
espera de escrever uma canção como ‘Murder Most Foul’ há muito tempo?
Não
sei se alguma vez desejei escrever uma canção sobre o J.F.K. Muitos
desses documentos leiloados foram falsificados. As falsificações são
fáceis de detetar porque alguém assina sempre o meu nome no final.
Ficou surpreendido por esta canção de 17 minutos ser o seu primeiro êxito Nº 1 da “Billboard”?
Fiquei, sim.
‘I
Contain Multitudes’ tem uma frase poderosa: “Durmo com a vida e a morte
na mesma cama.” Suponho que todos nos sentimos assim quando chegamos a
uma certa idade. Pensa muito sobre a mortalidade?
Penso
sobre a morte da raça humana. A longa viagem estranha do macaco nu. Sem
querer parecer ligeiro, mas a vida de todos é tão efémera. Todo o ser
humano, não importa o quão forte ou poderoso é, é frágil quando se trata
de morte. Penso nisso em termos gerais, não de forma pessoal.
Existe
um grande sentimento apocalíptico em ‘Murder Most Foul’. Está
preocupado com o facto de, em 2020, termos passado um ponto sem retorno?
Que a tecnologia e a hiper-industrialização trabalhem contra a vida
humana na Terra?
Claro, há muitas razões para estar
apreensivo com isso. Há agora, sem dúvida, muito mais ansiedade e
nervosismo do que antes. Mas isso só se aplica a pessoas de certa idade,
como eu e você, Doug. Temos uma tendência para viver no passado, mas
isso somos apenas nós. Os jovens não têm essa tendência. Não têm
passado, logo tudo o que sabem é o que veem e ouvem, e acreditam em
qualquer coisa. Daqui a 20 ou 30 anos, estarão na vanguarda. Quando
vemos alguém com 10 anos de idade, daqui a 20 ou 30 anos esse alguém vai
estar no poder, e não saberá nada sobre o mundo que nós conhecemos. Os
jovens que estão agora na sua adolescência não têm recordações para
lembrar. Por isso, é provavelmente melhor entrar nesse espírito assim
que possível, porque essa será a realidade. No que diz respeito à
tecnologia, torna todos vulneráveis. Mas os jovens não pensam assim. Não
se podem importar menos. As telecomunicações e a tecnologia avançada
são o mundo em que nasceram. O nosso mundo já está obsoleto.
A
maioria das minhas canções recentes é assim. Os textos são verdadeiros,
tangíveis, não são metáforas. As canções sabem o que querem,
escrevem-se sozinhas e contam comigo para as cantar”
Uma
frase em ‘False Prophet’ — “Eu sou o último dos melhores — podes
enterrar o resto” — lembrou-me as mortes recentes de John Prine e de
Little Richard. Ouviu a sua música depois de eles terem morrido como uma
espécie de homenagem?
Eles eram ambos triunfais no
seu trabalho. Não precisam que ninguém lhes faça homenagens. Todos
sabem o que fizeram e quem eram. E merecem todo o respeito e
reconhecimento que receberam. Sem dúvida nenhuma. Mas cresci com Little
Richard. Apareceu antes de mim. Iluminou o caminho. Mostrou-me coisas
que eu nunca teria conhecido sozinho. Por isso penso nele de forma
diferente. O John veio depois de mim. Por isso, não é a mesma coisa.
Reconheço-os de forma diferente.
Porque é que tão poucas pessoas prestaram atenção à música gospel de Little Richard?
Provavelmente
porque a música gospel é a música das boas notícias e, nesta altura,
não há boas notícias. As boas notícias nos dias de hoje são como um
fugitivo, são tratadas como criminosas e postas em fuga. Castigadas.
Tudo o que vemos são notícias que não servem para nada. E temos de
agradecer à indústria da comunicação social por isso. Provocam as
pessoas. Mexericos e roupa suja. Notícias sombrias que te impressionam e
te horrorizam. Por outro lado, as notícias de gospel são exemplares.
Podem dar-te coragem. Podemos levar a nossa vida dessa maneira, ou pelo
menos tentar. E podemos fazê-lo com honra e princípios. Há teorias da
verdade no gospel, mas para a maioria das pessoas isso é pouco
importante. As suas vidas são vividas demasiado rápido. Com demasiadas
influências más. O sexo, a política e o assassínio são o caminho a
seguir se quisermos chamar a atenção das pessoas. Isso excita-nos, esse é
o nosso problema. Little Richard foi um grande cantor de gospel. Mas
penso que foi visto como um forasteiro ou um intruso no mundo do gospel.
Não o aceitavam. E, claro, o mundo do rock’n’roll queria que ele
continuasse a cantar ‘Good Golly, Miss Molly’. Por isso, a sua música
gospel não foi aceite em nenhum dos dois mundos. Acho que a mesma coisa
aconteceu com Sister Rosetta Tharpe. Não me parece que isso tenha
incomodado nenhum dos dois. Ambos são o que costumávamos chamar de
pessoas de grande carácter. Genuínas, cheias de talento e que se
conheciam, não se deixando influenciar pelo mundo exterior. Sei que o
Little Richard era assim. Mas também Robert Johnson o era, ainda mais. O
Robert era um dos génios mais inventivos de todos os tempos. Mas
provavelmente não tinha público. Ele estava tão à frente do seu tempo
que ainda não o apanhámos. O seu estatuto atual não podia ser maior. No
entanto, no seu tempo, as suas canções devem ter confundido as pessoas.
Isto apenas mostra que os grandes seres humanos seguem o seu próprio
caminho.

Douglas R. Gilbert
No
álbum “Tempest”, toca ‘Roll on John’ como um tributo a John Lennon. Há
outra pessoa para quem gostaria de escrever uma balada?
Estas
canções aparecem-me do nada, sem justificação. Nunca são planeadas nem
escritas com uma intenção. Mas, dito isto, há determinadas figuras
públicas que estão no nosso subconsciente por uma razão ou outra.
Nenhuma dessas músicas com referências a nomes é escrita
intencionalmente. Vêm do espaço e caem-me em cima. Sei tanto quanto
qualquer um de vós por que motivo as escrevi. Contudo, a tradição
popular tem uma longa história de canções sobre pessoas. John Henry, Mr.
Garfield, Roosevelt. Acho que estou apenas preso a essa tradição.
Homenageia
muitos grandes artistas nas suas canções. A menção a Don Henley e Glenn
Frey em ‘Murder Most Foul’ foi um pouco surpreendente para mim. Quais
são as músicas dos Eagles de que mais gosta?
‘New Kid in Town’, ‘Life in the Fast Lane’, ‘Pretty Maids All in a Row’. É capaz de ser uma das melhores músicas de sempre.
Também
fala de Art Pepper, Charlie Parker, Bud Powell, Thelonious Monk, Oscar
Peterson e Stan Getz em ‘Murder Most Foul’. Como é que o jazz o inspirou
como compositor e poeta durante a sua longa carreira? Há artistas de
jazz que tenha ouvido ultimamente?
Talvez os primeiros trabalhos de Miles na Capitol Records. Mas o que é o jazz? Dixieland, bebop,
fusão a alta velocidade? A que chama de jazz? É Sonny Rollins? Gosto do
material calypso de Sonny, mas isso é jazz? Jo Stafford, Joni James,
Kay Starr — acho que eram todas cantoras de jazz. King Pleasure, essa é a
minha ideia de um cantor de jazz. Não sei, qualquer coisa pode entrar
nessa categoria. O jazz data dos loucos anos 20. Paul Whiteman foi
apelidado de rei do jazz. Tenho a certeza de que se perguntasse a Lester
Young, ele não saberia do que estava a falar. Alguma destas coisas já
me inspirou? Bem, sim. Provavelmente bastante. Ella Fitzgerald como
cantora inspira-me. Oscar Peterson como pianista, absolutamente. Alguma
destas coisas já me inspirou como compositor? Sim, ‘Ruby, My Dear’ de
Monk. Essa canção levou-me por um caminho para fazer algo do mesmo
género. Lembro-me de a ouvir repetidamente.
Que papel desempenha a improvisação na sua música?
Nenhum.
Não há como alterar a natureza de uma música depois de a ter inventado.
Podem definir-se diferentes padrões de guitarra ou piano nas linhas
estruturais e partir daí, mas isso não é improvisação. A improvisação dá
azo a bons ou maus desempenhos e o objetivo é manter a consistência.
Basicamente, tocamos a mesma coisa sistematicamente da maneira mais
perfeita possível.
‘I
Contain Multitudes’ é surpreendentemente autobiográfica nalgumas
partes. Os dois últimos versos exalam um estoicismo implacável, enquanto
o resto da canção é um confessionário humorístico. Divertiu-se na luta
com os seus impulsos contraditórios e da natureza humana no general?
Não foi preciso muito esforço. É o tipo de coisa em que empilhamos versos stream of consciousness,
esquecemo-los, e, depois, regressamos a eles. Nessa, em particular, os
últimos versos foram os primeiros. Era por esse caminho que a canção
desejava seguir. O catalisador foi, obviamente, o título. É uma daquelas
que se escreve por instinto. Numa espécie de estado de transe... ou
melhor, num autêntico estado de transe. A maioria das minhas canções
recentes é assim. Os textos são verdadeiros, tangíveis, não são
metáforas. As canções sabem o que querem, escrevem-se sozinhas e contam
comigo para as cantar.
Mais uma vez, nesta canção, nomeia um monte de pessoas. O que o fez falar de Anne Frank ao lado de Indiana Jones?
A
sua história significa muito. É profunda. E difícil de articular ou
parafrasear, especialmente na cultura moderna. Todos têm uma capacidade
de concentração tão curta. Mas está a tirar o nome de Anne do contexto,
ela faz parte de uma trilogia. Também pode perguntar: “O que o fez
decidir incluir o Indiana Jones ou os Rolling Stones?” Os próprios nomes
não são solitários. É a combinação deles que acrescenta algo mais do
que as suas partes singulares. Entrar demasiado no detalhe é
irrelevante. A música é como um quadro, é impossível apreendê-lo na
totalidade se o olharmos perto de mais. Os pormenores individuais são
apenas partes do todo. ‘I Contain Multitudes’ é mais como a escrita em
transe. Bem, não é mais como escrever em transe, é escrever em transe. É
a maneira como realmente sinto as coisas. É a minha identidade e não
vou questioná-la, não estou em condições de o fazer. Cada frase tem um
propósito próprio. Em algum lugar do universo, esses três nomes devem
ter pagado um preço pelo que representam e estão presos juntos. E mal
consigo explicar isso. Porquê ou onde ou como, mas esses são os factos.
Mas Indiana Jones era uma personagem fictícia.
Sim,
mas a música de John Williams deu-lhe vida. Sem essa música, não teria
sido um grande filme. É a música que faz com que Indy ganhe vida. Assim,
talvez seja por isso que ele está na canção. Não sei, todos os três
nomes vieram de uma só vez.
Uma referência aos
Rolling Stones aparece em ‘I Contain Multitudes’. Só pela piada, que
canções dos Stones desejaria ter escrito?
Oh, não sei, talvez ‘Angie’, ‘Ventilator Blues’ e o que mais, deixe-me ver. Sim, ‘Wild Horses’.
Charlie
Sexton começou a tocar consigo durante alguns anos, em 1999, e voltou
em 2009. O que o torna um músico tão especial? É como se conseguissem
ler a mente um do outro.
No que diz respeito ao
Charlie, ele consegue ler a mente de qualquer um. Charlie, no entanto,
cria canções e canta-as também, e consegue tocar guitarra ao ritmo da
banda. O Charlie sente que faz parte de qualquer uma das minhas músicas e
sempre tocou muito bem comigo. ‘False Prophet’ é apenas uma de três
coisas estruturais de 12 compassos neste disco. O Charlie é bom em todas
as canções. Não é um guitarrista de show-off,
embora possa sê-lo, se quiser. É muito contido quando toca, mas pode
ser explosivo quando quer. É um estilo clássico de tocar. Muito old school. Ele habita uma canção em vez de a atacar. Sempre fez isso comigo.
As
boas notícias nos dias de hoje são como um fugitivo, são tratadas como
criminosas e postas em fuga. Castigadas. Tudo o que vemos são notícias
que não servem para nada”
Como passou os últimos dois meses confinado na sua casa em Malibu? Conseguiu soldar ou pintar?
Sim, um pouco.
Consegue ser musicalmente criativo enquanto está em casa? Toca piano e brinca um pouco no seu estúdio privado?
Faço isso, principalmente, em quartos de hotel. Um quarto de hotel é o mais próximo que eu tenho de um estúdio privado.
Ter
o oceano Pacífico como quintal ajuda-o a processar a pandemia da
covid-19 de uma forma espiritual? Há uma teoria chamada “mente azul” que
acredita que viver perto da água tem um poder curativo.
Sim,
consigo acreditar nisso. ‘Cool Water’, ‘Many Rivers to Cross’, ‘How
Deep Is the Ocean’. Ouço qualquer uma dessas canções e é como uma cura.
Não sei para o quê, mas uma cura para algo que nem sei que tenho. Uma
reparação de algum tipo. É como uma coisa espiritual. A água é uma coisa
espiritual. Nunca tinha ouvido falar de “mente azul”. Parece que pode
ser uma espécie de canção de blues lenta. Algo que Van Morrison
escreveria. Talvez o tenha feito, não sei.
É
pena que a peça “Girl from the North Country”, que inclui música sua e
estava a receber críticas tão boas, tenha tido de parar a produção
devido à covid-19. Já viu a peça ou alguma filmagem da mesma?
Claro,
já a vi e mexeu comigo. Vi-a como espectador anónimo, não como alguém
que tinha alguma ligação à peça. Deixei andar. No final da peça estava a
chorar. Nem sei dizer porquê. Quando a cortina se fechou, estava
atordoado. Estava mesmo. É pena que a Broadway tenha fechado, porque
queria vê-la outra vez.
Pensa nesta pandemia em termos quase bíblicos? Uma praga que varreu a Terra?
Penso
que é um precursor de algo mais que está para vir. É uma invasão com
certeza, e está disseminada, mas bíblica? Quer dizer, como algum tipo de
sinal para que as pessoas se arrependam das suas más ações? Isso
implicaria que o mundo estivesse a caminhar para algum tipo de castigo
divino. A arrogância extrema pode ter alguns castigos desastrosos.
Talvez estejamos na véspera da destruição. Há numerosas maneiras de
pensar sobre este vírus. Acho que temos de o deixar correr o seu curso.
De
todas as suas obras, tenho gostado cada vez mais de ‘When I Paint My
Masterpiece’. O que fez com que a trouxesse de volta para a vanguarda
dos seus concertos recentes?
Também tenho gostado
dela cada vez mais. Penso que esta canção tem algo a ver com o mundo
clássico, algo que está fora de alcance. Um local onde gostaria de estar
além da sua experiência. Algo que é tão supremo e de primeira classe
que nunca conseguiria trazê-lo de volta à terra. Que alcançámos o
impensável. É isso que a música tenta dizer, e tem de se colocar nesse
contexto. Posto isto, mesmo que pinte a sua obra-prima, o que fará
depois? Bem, obviamente tem de pintar outra obra-prima. Assim poderia
transformar-se nalgum tipo de ciclo interminável, uma espécie de
armadilha. Mas a canção não diz isso.
A
arrogância extrema pode ter alguns castigos desastrosos. Talvez
estejamos na véspera da destruição. Há numerosas maneiras de pensar
sobre este vírus”
Há alguns anos, vi-o tocar uma versão tipo bluegrass de ‘Summer Days”’. Já pensou em gravar um álbum de bluegrass?
Nunca pensei nisso. A música bluegrass
é misteriosa e profundamente enraizada e quase tens de nascer a
tocá-la. Lá porque és um grande cantor ou um grande isto ou aquilo, não
significa que podes estar numa banda de bluegrass.
É quase como música clássica. É harmónica e meditativa, mas que está
sedenta de sangue. Se já ouviu os Osborne Brothers, então sabe o que
quero dizer. É uma música implacável e só a consegue levar até
determinado ponto. As músicas dos Beatles tocadas num estilo bluegrass não fazem sentido. É o repertório errado e já foi feito. Há, de certeza, elementos de música bluegrass
no que eu toco, especialmente a intensidade e temas semelhantes. Mas eu
não tenho a voz de tenor e não temos harmonias a três vozes ou um banjo
constante. Ouço muito Bill Monroe, mas fico mais ou menos pelo que sei
fazer melhor.
Como se está a aguentar a sua saúde? Parece estar são como um pero. Como consegue ter corpo e mente a trabalhar em uníssono?
Oh,
essa é a grande questão, não é? Como é que alguém o faz? O corpo e a
mente andam de mãos dadas. Tem de haver algum tipo de acordo. Eu gosto
de pensar na mente como espírito e no corpo como substância. Como se
integra essas duas coisas, não faço ideia. Tento andar numa linha reta e
não sair dela, manter-me no nível.
Tradução Joana Henriques
Originalmente publicado no “The New York Times” a 12 de junho de 2020
Ver crítica a “Rough and Rowdy Ways”


Sem comentários:
Enviar um comentário